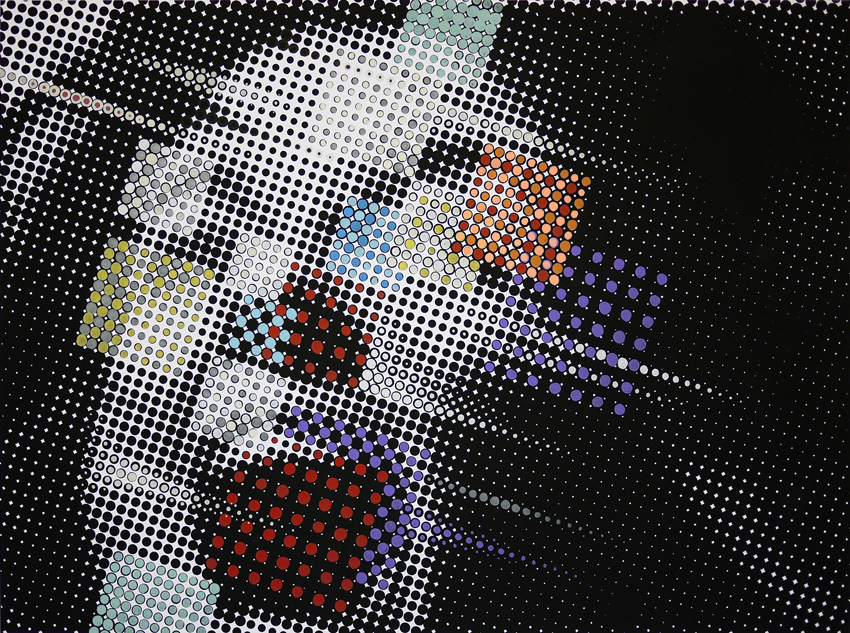"Figura-chave” e pioneiro da arte urbana na França há 35 anos, tem se dedicado à pintura, à escultura, ao desenho e à fotografia. Vídeo, música e instalações são parte de sua paleta técnica.
Ele é o fundador da Associaçao Le M.U.R. , a primeira a convidar a street art para um museu à céu aberto a cada duas semanas, em Paris.
Jean Faucheur foi o Consultor Artístico da Fundação Cartier para a exposição “Né dans la rue –graffiti" (Nascido na rua – graffiti", 2009) e do “MURS de la L2”, projeto gigantesco de arte urbana no anel viário de Marselha (2014-2017).
Como artista, participou da primeira exposição de arte urbana realizada pelo Ministério da Cultura na França (2015) e foi homenageado pela mecenas e designer Agnès B através da sua Galerie du Jour, na First Urbain Art Fair em Paris (2016).
Essa pluralidade / transversalidade de talentos faz de Jean Faucheur um artista singular no panorama da arte contemporânea. Suas múltiplas formas de expressão e grande sensibilidade são a marca de uma obra paradoxal cuja força é irresistível.
- Tony Shafrazi (Galerista, New York):
''O caminho que ele escolheu é, pela sua dificuldade mesmo, o único que leva a algum lugar''.
- Sarah Mattera e Patrice Chazotte (Centre Pompidou, Paris):
''Brincar com o impreciso para nos revelar o que é preciso, é assim que nós poderíamos descrever o trabalho deste grande artista que é Jean Faucheur''
- Pierre-Evariste Douaire (Editor da Revista Art Interviews, Paris):
''Jean Faucheur é um ícone do underground parisiense. Estrela de rock antes do tempo, participou de todos os movimentos "independentes" do início dos anos 80. Personalidade cativante mas misteriosa, é adulado contudo permanece à margem. Prolífico e líder de coletivos, foi o instigador do “Frères Ripoulin”, dos quais fizeram parte também Claude Closky e PiroKao, apelido de Pierre Huyghe.
Espírito livre, Jean Faucheur sempre preferiu as batalhas incertas ao sucesso comercial fácil. Atraído pelas luzes da ribalta tanto quanto pelo anonimato, ele se utiliza do claro/escuro para ocultar e mostrar, sem nunca revelar. Em sua pintura ele meticulosamente faz desaparecer seu objeto, como se tentando remover uma pista por demais evidente para descobrirmos por que (...) o artista brinca de esconde-esconde com a gente por quase quarenta anos! ''
- Philippe Kong (Psicanalista, Paris) e Jonathan Nakache (Colecionador):
''Sua obra nos lembra da arte pop? De Andy Warhol? De Keith Haring? Sem chance, trata-se de um inclassificável, e é onde reside todo o seu interesse. (...) A obra de Jean Faucheur nos seduz e flerta - sim, flerta, é este o verbo mais apropriado - com o irreal e o real, o visível e o invisível, para você viver uma experiência corporal inédita”.
Guido Reyna (Psicanalista, Paris):
'' Ao nos conduzir a um jogo oscilante entre o ser e o parecer, levando o espectador à se situar tanto na cena representada como fora dos limites da sua obra, Jean Faucheur nos questiona sobre nossa posição desejante no mundo. ''
- Emmanuel de Brantes (Galerista, Paris):
'' Sua disponibilidade é infalível, sua criatividade sem limites, sua sensibilidade permanente. (...) Sem dúvida este seu caminho, como sugeriu Tony Shafrazi há vinte anos, é o único que leva a algum lugar. ''
- Links:
Associação Le M.U.R
Fundação Cartier
Ministério da Cultura da França
Os muros do anel-viario da L2 Marselha
Amélie photogrphie découpée 2002
TRECHOS DE ENTREVISTA COM JEAN FAUCHEUR
publicada em francês no livro “L´ART SE RUE – 12 PIONNIERS DE L´ART URBAIN EN FRANCE”, Paris, H´Artpon, 2013.
Tradução: Rosangela Ribeiro dos Santos.
Karen Brunel-Lafargue: Você poderia se apresentar em algumas poucas palavras ?
Jean Faucheur: Me chamam Jean Faucheur, tenho 56 anos e me dizem artista, pintor, escultor, e às vezes também videasta. Hoje eu não me descrevo espontaneamente como um artista. Antes eu achava interessante fazer as pessoas pensarem na sua relação ao artista, ao mito que se formou em torno deste estatuto. Atualmente sinto-me menos preocupado com o fato de ser um artista que com o fato de tentar ser um ser humano consciente do mundo em que vive, e consciente do mundo que vive dentro ele.
KBL: Qual foi o seu percurso? Como ele o levou a trabalhar na rua?
JF: Depois de formado na Artes Deco (Escola Nacional Superior de Artes Decorativas-EnsAD), eu trabalhava no meu estúdio. Eu já tinha feito uma ou duas exposições em galerias, mas não estava muito satisfeito com a experiência. Eu sentia uma vontade profunda de sacudir a poeira – a que se encontrava em mim, como a que eu podia imaginar no mundo da arte. Então descobri Keith Haring e seu trabalho no metrô, em outdoors. Sua abordagem me inspirou muito. E eu via meu atelier que se enchia cada vez mais... Havia objetos por toda parte, e dai tive um estalo: eu vou fazer pinturas no papel, e depois vou colá-las na rua. Então foi assim que as coisas começaram. A primeira vez que coloquei um cartaz, foi precisamente no topo da Rua d'Artois, em Versalhes, ao lado de onde eu morava. Colei uma pintura que tinha cerca de um metro e cinquenta por um metro e cinquenta. Depois, gradualmente, comecei a preencher painéis de três por quatro metros. Foi preciso encontrar uma técnica para consegui-lo – pois colar sozinho uma área grande de papel muito fino não é fácil.
A partir do momento em que a coisa foi lançada, eu realmente não controlei mais o processo. Eu mudava minha pintura, minha pintura me mudava - tudo isso a uma velocidade fenomenal. Tem-se que imaginar que quando você faz um cartaz, você o olha já sabendo que algumas horas mais tarde ele terá desaparecido. Eventualmente você tira uma foto, depois você volta ao seu atelier para fazer seis ou sete outros, que você colará por sua vez. Eu estava fazendo uma exposição semanal de coisas que desapareciam. Nessa dinâmica, a evolução do trabalho é rápida, muito rápida. Ao fazer o trabalho na rua, você entra num ciclo perturbador. Claro que há generosidade e energia, mas ha também algo que acontece no corpo, é elétrico.
Daí eu usava o outdoor pela sua qualidade primeira, ou seja, mostrar para todo mundo ver. Vivemos num tempo em que a publicidade comanda e os publicitários são vistos como gênios criadores. Eu deixava o meu número de telefone na parte inferior dos outdoors para que as pessoas me ligassem. Me parecia importante dar uma imagem, mas também abrindo a possibilidade de um diálogo. Muitas vezes as pessoas me convidavam. Lembro-me de alguém, na Rua Gay Lussac, que me convidou para acompanhá-lo para um drinque enquanto víamos o outdoor de sua janela. Quando as pessoas me contatavam, as trocas eram geralmente positivas. As únicas pessoas que me ligavam para dizer coisas negativas, eram os publicitários ou então a empresa Decaux. Mas dado que naquela época a intervenção ainda assim lhes fazia propaganda, eu pedia-lhes para relativizar. Meus poucos cartazes não mudariam grande coisa para eles.
No começo, nos não éramos tão numerosos assim. Quando vimos VLP, Jérôme Mesnager, Zloty ou Marie Rouffet - havia cinco ou seis outros na mesma linha - nós sentimos que algo estava acontecendo. Tínhamos uma forma de consciência de grupo, mas menos extensa do que no grafite. Digamos que havia menos altruísmo.
Nesta área, temos de prestar homenagem aos americanos. O grafite é um domínio altamente estruturado, à imagem da sociedade em que ele nasceu. Seria interessante de estudar o legado da consciência de grupo na França... Ela tinha a mesma qualidade de lá Quando visitei os Estados Unidos, fiquei impressionado com o espírito de alguns indivíduos. Caras como Futura ou Keith Haring realmente me surpreenderam com sua generosidade, seu altruísmo. Eles tinham esta convicção profunda de que quando somos muitos é muito melhor.
KBL: Qual é e qual era o seu posicionamento quanto a mostrar o seu trabalho em galerias?
JF: Eu tenho os questionamentos e as angústias de todo artista. O meio artístico tem seus códigos; alguns deles não me causam muito problema (a galeria, o sistema marchand, os colecionadores, etc.), é o sistema liberal globalizado. Quanto às minhas obras, elas nasceram um dia, algumas foram destruídas, outras conservadas. Eu tenho carinho por elas, algumas me emocionam, às vezes elas trazem um mistério em si mesmas, mas eu fico frequentemente comovido pela conexão que pode se criar entre elas e os indivíduos. E isso é mágico !
Tessa photographie 2004
KBL: Qual é a sua análise e seu sentimento sobre a arte urbana hoje?
JF: Em geral, eu diria que eu me interesso pelo que muda - porque tudo muda. Se interessar por aquilo que permanece é se interessar pelo que morre. A arte urbana é justamente uma arte que desaparece, que não deixa vestígios. Nisso ela torna-se interessante, pois torna-se realmente viva. Este aspecto de transitoriedade da arte efêmera nos tira do confinamento, nos desperta. Agir sabendo que o que fazemos será destruído nos confronta com a questão da permanência. Onde ela está, se ela não pode se situar nas obras
A arte que está acontecendo na rua não precisa das galerias, dos críticos, das instituições... Ela não precisa de ninguém. Antes, estávamos em um fenômeno de identidade, em uma necessidade de existir como indivíduos no espaço urbano, na sociedade. Hoje a Internet tem ajudado a mudar as coisas em direção a um fenômeno relacional. Há uma espécie de rua virtual a que todos têm acesso, e a rua real.
A narração da história da arte urbana é manchada pelo desprezo que o mundo da arte contemporânea tem com o que acontece na rua, pela sua dimensão popular, acessível. Em torno de 2000 eu comecei a trabalhar com coletivos como « Une Nuit » (Uma noite), que utilizava um pouco da minha abordagem em cartazes publicitários. Em quatro anos reunimos cerca de cento e trinta artistas para fazer cartazes que colávamos, em uma noite, em outdoors na cidade de Paris. Isso aconteceu num momento em que todo o povo do grafite era particularmente perseguido legalmente e muitos inclusive respondendo a vários processos.
O incidente do Metro Louvre-Rivoli em 1992 transformou o grafite, na mente coletiva, numa espécie de terrorismo. Muitos grafiteiros foram presos e eles encontraram-se completamente encurralados. Se eles fizessem novas intervenções, a polícia não perdoaria. Eu encontrei alguns destes artistas para lhes mostrar que com o mesmo trabalho feito no papel e depois colado em outdoors, eles evitariam qualquer problema com a polícia. Um dia eu colei um cartaz com uma assinatura enorme de Willis em frente aos caras do BAC... E eles acharam legal! (BAC Brigade Anti-Criminalité, departamento da Policia Nacional francesa)
Como resultado deste e outros projetos, fui levado a conhecer instituições artísticas da cidade de Paris. Discutimos sobre a relevância do grafite em relação ao mundo da arte e eu sentia neles um certo desprezo. Eu então lhes disse que os artistas cujas intervenções urbanas lhes pareciam naquele momento sem valor algum, seriam talvez os mesmos que eles adulariam em poucos anos. Lembrei-lhes os nomes de Pierre Huygues, de Closky, que foram forçados a remover de seus CVs as linhas “infames”, ou seja, qualquer menção ao coletivo “Les frères Ripoulin“ (co-fundado por Jean Faucheur em 1984 e ativo até 1988) e de todas as suas intervenções na rua - caso contrário, não conseguiriam se impor como artistas em seu pleno direito. Se as instituições tivessem considerado “Les frères Ripoulin“ na década de oitenta, eles poderiam ter proporcionado à arte contemporânea a energia e a generosidade que lhe faltam atualmente e de maneira sufocante! A mensagem, aparentemente, foi entendida.
Neste mesmo espírito eu ajudei a criar a associação Le M.U.R., sigla para Modulável, Urbano, Reativo, cujo principal objetivo era fornecer uma forma de legitimidade à arte urbana e ao grafite em particular. Dizer às pessoas que havia um local de exposição, de legitimação desta cultura. A partir do momento em que o grafite entrou em uma moldura retangular, isso mudou tudo! Nós passamos a uma relação ao “quadro”, uma relação nobre, uma relação à “Arrrrrte”!
Eu queria mostrar que um grafite bem pensado pode ser realmente extraordinário. Esta é uma prática crescente, e mesmo que não revolucione nada, já areja bastante. Traz uma energia que eh fundamental. Para mim, o desafio é promover o grafite como um modo de expressão, mas não automaticamente artístico. Sair do artístico me interessa muito, isso não me incomoda, muito pelo contrário. Muitas pessoas sentem necessidade de saber se isto é arte ou não. Para mim tanto faz.
As pessoas precisam rotular as coisas para poder ter acesso a elas. Isso é arte porque está em museus, galerias; porque existe uma crítica, um mercado. Ao contrario o grafite na rua ou sobre minha porta carrega ambiguidade; é uma fonte de animosidade.
O melhor exemplo talvez seja o de Gérard Zlotykamien vendendo para a Fundação Rothschild uma janela que ele havia pintado na Rua Berryer, em Paris. Uma vez que a venda foi concluída, Zloty ao sair da Fundação, pára na frente de sua obra e pensando em fazer um presente para o comprador, acrescenta um pouco de sua arte efêmera nas abas laterais exteriores, do lado da rua. A Fundação processou-o por degradação e ele perdeu a causa! Isso é um absurdo ...
Boulevard de la Vilette photographie 2009
KBL: Como você vê a relação entre a arte urbana e a arte contemporânea?
JF: O mundo da arte está morto. A instituição está morta. A conceituação, a preeminência do conceito sobre a obra anestesiou e matou a arte. Os artistas não fizeram nada de errado a esse nível. São as instituições que disseram: ‘Tem que pensar antes de fazer, e aquele que age de forma diferente não tem existência para nos’. E assim foi decidido que o artista deve pensar.
Este novo dogma nega séculos de história da arte! Na década de oitenta, a exposição « Les Magiciens de la Terre » (Os Mágicos da Terra) conseguiu fazer com que o conceito de artista mágico aparecesse. No Ocidente, nós desenvolvemos tanto a ideia do artista-rei da neurose que já fui muito criticado por não ficar no meu papel, de ser muito voltado para o outro e muito pouco narcisista (ledo engano!).
Agora, a regra diz: quanto maior o seu ego, mais você existirá no nosso mundo. E toda a dimensão mágica, telúrica das obras, toda a dimensão efêmera e atemporal, esta da qual só a poesia pode falar, nós a apagamos sem pena. Em última análise, não nos restou mais que o conceito e é o que nos vendem como o bem supremo, último. E essa noção de finalidade em si nos é vendida como o ideal absoluto a conquistar - como se o homem devesse ele também alcançar sua forma final. Isto é o que Hitler pensava em algum momento da história, e vimos no que deu ...
A obra importante é aquela que pode despertar a consciência e nos trazer de volta para o silêncio interior. Nós sempre pensamos que as coisas estão fora de nós mesmos, mas quando uma obra de arte nos abre ao silêncio ou ao ruído, isso é maravilhoso pois ela dissipa os véus interiores. A arte pode ter inventado o mais belo conceito que seja, mas se ela não acrescenta nada a essa busca interior, à questão fundamental “quem sou eu”, a meus olhos ela tem pouco interesse.
A rua é uma realidade concreta, a arte não é. A arte é uma ideia, continua a ser uma concepção. Em 1993 eu participei da FIAC com a galeria Agnès b. Minhas esculturas foram exibidas com o trabalho de um pintor indiano, Vyakul, que fazia magnificas pinturas abstratas em tamanho mínimo, realizadas para curar como se fosse um remédio. Um artista que eu conhecia riu quando viu o preço desses quadros tão pequenos, da ordem de seis mil francos na época. Ele me explicou que este mesmo artista, na Índia, vendia suas pinturas por somente alguns centavos. Aqui entendemos toda a importância do contexto. Da mesma maneira, no início dos anos oitenta, o artista Futura 2000 era bem conhecido. Alguns anos mais tarde, ele trabalhava como entregador numa bicicleta. Ele havia desaparecido do top ten, ele tinha sido consumido e depois descartado. Então o que é a arte? Uma criação ocidental perversa para tentar “compreender” o inominável.
KBL: Como você vê o espaço urbano, hoje, em termos de local de expressão?
Sans titre Terre cuite 1996